No momento em que o Brasil entra pela primeira vez para o grupo de países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a imprensa destaca a sabotagem parlamentar da oposição oligárquica como expressão de resistência cívica. Exalta todos os mecanismos de obstrução, após ter enquadrado o PSDB nos marcos do lacerdismo. É o conhecido agendamento que não tem qualquer compromisso com um projeto efetivo de nação. São tempos difíceis. Ativismo judiciário e partidarização da mídia como instrumentos de golpe permanente compuseram a novidade política de 2007. Talvez o que mova a roda do retrocesso seja nostalgia de tempos recentes.
Ao tomar posse como governador da Bahia, em 1947, Octávio Mangabeira, o velho cacique udenista, definiu a democracia brasileira "como uma plantinha tenra que precisa ser regada todo dia". A divulgação, em 2004, da pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) não deixava dúvidas: quase seis décadas depois do discurso do parlamentar baiano, poucos eram os vocacionados para botânica ou jardinagem em nosso país.
Dos 18 países latino-americanos pesquisados, o Brasil ficou em 15º lugar quanto à adesão popular à democracia. O estudo registrava ainda que o Brasil era o país com maior grau de democracia eleitoral. Estaríamos diante de um paradoxo? Uma contradição capaz de colocar sob suspeição o rigor metodológico empregado? Não. Para o bem e para o mal, estávamos na presença de um alerta. E a imprensa deveria acionar suas sirenes. Mas o "apreço democrático" é um disfarce recente.
Depois de 20 anos de regime militar, vivíamos um arremedo de democracia que não ousou ir além da restituição dos mecanismos representativos do sistema político e do ordenamento jurídico. Uma institucionalidade que nunca se propôs a arranhar, ainda que levemente, os interesses das elites dominantes. Sejam os das que se encastelam no universo político conservador, sejam os das abrigadas na ampla rede que vai do latifúndio aos grupos empresariais mais expressivos.
Produtos de transição por alto, em mais uma ação intramuros da nossa permanente saga pré-republicana, os governos civis que sucederam os generais de plantão não elaboraram qualquer agenda de inclusão efetiva. Sob o tacão do receituário neoliberal, a "estabilidade democrática" foi a consagração da não-política, do não-acontecimento, do não-devir.
Ao terror de Estado sobreveio a ditadura do mercado. As abstrações econômicas, expressas em riscos e cotações de títulos públicos, se superpuseram às relações sociais concretas. O estadista sensato foi redefinido como sendo aquele que tranqüiliza o capital volátil e facilita o cálculo contábil.
O pensamento único invocou sua atemporalidade, transmutou-se em ciência natural e transformou a política em apêndice ou – quem sabe? – ornamento. A mídia, em meio à tempestade, se arvorou em instância de representação da esfera pública esvaziada, através da terceirização de suas colunas de política e economia a consultorias financeiras e cientistas políticos regiamente remunerados. FHC, personificado como tipo ideal de estadista, foi uma ficcão urdida nas tramas urdidas em conhecidas redações. Se já não era possível sustentar a excelência acadêmica, salvava-se a figura do gerente sensato.
O resultado foi devastador: 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, taxas recordes de desemprego e 30 mil vítimas de assassinato por ano. O número de menores entre 10 e 17 anos que trabalhavam na rua atingia, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), um contingente de 263 mil crianças, em 2002. E dos adultos ainda empregados, apenas 45,2% contribuem para a Previdência. Aumentava a concentração de renda e acentuavam-se as desigualdades regionais. Sobreviver tendo entre 15 e 24 anos tinha virado proeza de quem sabe se esgueirar bem em vielas e condomínios.
Diante desse quadro, presenciamos, como sempre, por parte da grande imprensa, uma demonização sistemática dos movimentos sociais que pretendiam inscrever como sujeitos de direito, categorias até então à margem da história. Apresentados como disfunções, expressões patológicas, sintomas anômicos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra(MST), a União dos Movimentos de Moradia (UMM) e a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag) produziam, como é normal em uma sociedade fracionada, confrontos ao agenciar demandas legítimas.
Como a cultura política de uma formação social muito depende das representações simbólicas que a mídia fazia (e faz) dos atores e dos grupos políticos, o recorte resultante reproduz o que já sabemos: ao povo, quando pretende ser protagonista da própria história, é pespegado o rótulo de baderneiro. Gente que não tem causa e vive uma insatisfação difusa e inorgância. A célebre plebe rude.
Assim, tratados como caso de polícia, são apresentados como pontos de desestabilização, agentes que põem em risco o "ordenamento democrático do Estado de Direito". Logo eles, que tanto lutam por seu fortalecimento. Se observarmos as dinâmicas dos movimentos organizados, nenhum deles sinaliza para pleitos que representem rupturas com os marcos da legalidade vigente. Grosso modo, pedem à burguesia que perca sua atávica submissão ao capital externo e instaure reformas que viabilizem um capitalismo nacional, sem veleidades autárquicas. Conhecem, e muito bem, a dinâmica transnacional da economia contemporânea para propor as bravatas que a imprensa lhes atribui.
Enquanto prosperar a cultura da intolerância classista, não restará ao homem comum outro gesto que não seja o da persignação ao ouvir a palavras Direito e Estado democrático. Legítimo será indagar pelo contraponto de suas demandas: se os movimentos sociais, que agenciam novos espaços ético-políticos, são um risco à democracia, quais serão os pilares de tal forma de governo? O superávit primário visto como um fim em si mesmo? As metas de inflação? O agrobusiness que ignora o mercado interno? Com a palavra , editores e editoras do pensamento único.
Se a plantinha tenra insiste em nascer nos grotões do latifúndio improdutivo, que as elites a reguem com carinho. Porque ele, sujeito sem direitos, excluído do jogo político, alvo móvel da bala que serpenteia favelas e palafitas, tem que cuidar da parte que lhe cabe nesse jogo de soma zero que alguns chamam de vida.
Segundo o estudo do PNUD, há três anos, 54,7% dos cidadãos latino-americanos aceitariam um governo autoritário se ele pudesse resolver seus problemas econômicos. E 58,1% achavam que o presidente pode ignorar as leis.
O alerta estava dado. O encaminhamento político que seria dado a ele é que definiria. nossa situação futura. Para entendermos o ódio das páginas e telas é bom olhar dados recentes, números que incomodam os protagonistas de uma ordem cada vez mais distante. Sempre é necessário lembrarmos alguns avanços nos cinco últimos anos: reajuste salarial superior à inflação para 85% dos trabalhadores; redução da pobreza em 8%; inclusão bancária de 6 milhões de brasileiros e fim da dependência com o FMI e sua tutela,entre outros.
Para as oligarquias demo-tucanas é aí que reside o intolerável. O instinto de sobrevivência política não lhes deixa outra alternativa que não seja o de, mais uma vez, inviabilizar um país que se anuncia menos excludente e mais democrático. São incapazes de, mesmo na oposição, estabelecer um pacto de Estado. Não podem conceber que um governo dialogue com movimentos organizados. Não têm agenda ou projeto de país. Nasceram para a subalternidade e é nela que ser reconhecem como personagens relevantes. A chantagem fiscal é apenas uma das estratégias do eterno retorno do atraso. As máquinas não devem parar. O IDH veio em má hora.
Gilson Caroni Filho é professor de Sociologia das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha), no Rio de Janeiro, e colaborador do Jornal do Brasil e Observatório da Imprensa.
Gilson Caroni Filho é professor de Sociologia das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha), no Rio de Janeiro, e colaborador do Jornal do Brasil e Observatório da Imprensa.






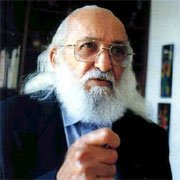


Nenhum comentário:
Postar um comentário