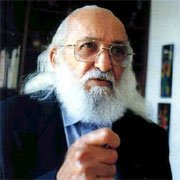A propaganda da teoria do aquecimento global hiberna quando o gelo chega, ou melhor, tirita de vergonha ao tornar-se público e notório que as temperaturas desceram para valores de há um século atrás em certas regiões europeias.
Bastará, contudo, que o sol desponte, para que os crentes no global warming voltem a atacar, alertando para o degelo do Ártico. E, se o calor escassear, não hesitam em socorrerem-se dos tornados e outros eventos meteorológicos mais radicais, que por vezes ocorrem, para agitarem o papão das alterações climáticas catastróficas.
Em grande parte da Europa, os aeroportos, as vias-férreas e as auto-estradas ficaram inoperacionais durante vários dias. Deveu-se isto a uma massa de ar gelado proveniente de latitudes árcticas, que chegou para congelar as pequenas ondas dos lagos dos parques londrinos e das fontes romanas. Ora isto é espantoso: – então, o ar congela as águas no continente europeu, mas, no próprio Árctico, de onde vem, não funciona?!
Com o presente artigo, pretende-se alertar os leitores para deriva ecoliberal, em que os grandes poderes políticos e económicos vêem incorrendo, apoiando-se nas discutíveis teorias do IPCC – Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, que servem de partida para a os lucrativos negócios em torno da economia do carbono. De facto, muitas dezenas de cientistas em todo o mundo já demonstraram que a teoria antropogénica do aquecimento global não está confirmada cientificamente. É uma hipótese, nada mais.
Mas, então, e não obstante todas as dúvidas existentes, por que razão os centros de decisão política neoliberais foram tão apressados em adopta-la como doutrina oficial, apontando medidas correctivas para "salvar o mundo" numa panóplia de soluções mitigadoras? Qual é o interesse dos media ao reproduzirem acriticamente tudo o que é anunciado como uma Verdade inquestionável? E por que motivo o caudal informativo sobre a "catástrofe ambiental" convence os consumidores de notícias e, entre eles, pessoas bem informadas e inseridas em partidos de esquerda?
Os alarmes relativamente ao degelo no Árctico não são novos nem inéditos: muito antes dos satélites americanos terem "visto", em 2007, aquilo que disseram ser a evidencia do degelo no Ártico, os marinheiros, pescadores e navegadores contavam que, no Verão, o clima é muito instável naquelas latitudes, e ora há degelo, ora a água recongela, e é isso que torna a navegação muito perigosa naqueles mares. Os russos, naturalmente, conhecem bem aquelas águas.
Uma notícia publicada no The Washington Post, em 2 de Novembro de 1922, baseada num relatório governamental do United States Department of Commerce, com origem nas informações recolhidas pelo cônsul americano na Noruega, chamava a atenção para as alterações que estavam a verificar-se no Árctico: as águas aqueciam, os icebergs desapareciam, as focas ressentiam-se e os ursos polares estavam a desaparecer. Enfim, já então eram só desgraças!
Naquele tempo a repercussão internacional, pelo menos no mundo ocidental, foi enorme. Estava-se perante uma alteração drástica de toda a região do Árctico, dizia-se.
Em 1922, o dióxido de carbono (CO2) não estava na agenda de ninguém. As emissões antropogénicas deste gás que, note-se, não é um poluente, eram muitíssimo menores do que são no presente. Simplesmente havia, como hoje, outros mecanismos responsáveis pela evolução climática, mecanismos esses com muito mais importância do que o inocente CO2.
Naquela época, a Organização Mundial de Meteorologia anunciou que a temperatura média global cresceria a uma taxa próxima da que veio, de facto, a verificar-se muito mais tarde, no período de 1970 a 1990, e que deu oportunidade ao IPCC e seus seguidores para fazerem o grande alarido que conhecemos.
C02, O PSEUDO VILÃO UNIVERSAL
A situação do Árctico, com ou sem satélites meteorológicos, com ou sem IPCC, repete-se desde tempos imemoriais. A diferença é que, actualmente, há uma agenda ecoliberal, segundo a qual faça chuva ou faça sol, faça uma onda de calor ou uma vaga de frio, ou, até, sismos, erupções vulcânicas ou tsunamis, tudo é culpa do CO2.
Esclareçamos, com maior pormenor, a opinião crítica aqui registada e que se fundamenta nos trabalhos eruditos de muitos estudiosos destas matérias em todo o mundo.
As diversas actividades industriais, que se vêem intensificando desde a revolução industrial, numa primeira fase impulsionada pela utilização da máquina de vapor accionada a carvão, e, depois, pela electricidade (gerada a partir do potencial hídrico e do carvão) e pelo petróleo, colocam um severo problema de gestão de recursos naturais, e, entre eles, o do esgotamento a médio prazo do petróleo, cujo Pico produtivo estaremos a atingir na actualidade, e, mais tarde, de forma inevitável, do gás natural e do carvão. O próprio urânio, se consumido na produção de electricidade com as melhores tecnologias já hoje disponíveis, também se esgotará em menos de cem anos.
O ritmo de extracção dos recursos naturais e o crescendo das emissões poluentes resultantes da indústria e dos transportes, foram acelerados à medida que o modo de produção capitalista se impôs mundialmente. Este modo de produção, a par da sua força revolucionária inicial, é, por natureza, predatório e desregulado. E o seu poder adaptativo tem, inclusive, o condão de contaminar as alternativas políticas e económicas socialistas que se formaram em diversas regiões eurasiáticas, pressionando-as a "competir" com ele em vários tabuleiros e, assim, levando-as a não conseguirem originar um forma de produção industrial alternativa e sustentável. E, quando não vai lá através do binómio competição-sedução, recorre aos bloqueios ou à agressão bélica.
É possível que as diversas actividades humanas, que trazem sempre consigo diversos tipos de impactes – a desflorestação, a produção de metano pela agro-pecuária, a alteração dos solos, os resíduos produzidos pelos quase sete mil milhões de seres humanos, a emissão de CO2 industrial e nos transportes (e nas queimadas e incêndios) e de poluentes líquidos, sólidos e gasosos, etc., – contribuam, com uma percentagem significativa, para algumas das alterações climáticas que se fazem notar no planeta. No entanto, pode afirmar-se com segurança, que não é possível provar, ou imaginar sequer, um padrão de correlação causa-efeito solidamente estabelecido e indiscutível.
A caracterização e quantificação destas mudanças tem muitas incertezas e, por via disso, é difícil afirmar, com razoável segurança e seriedade, qual a data a partir da qual elas, as alterações climáticas, afectariam significativamente a geosfera, a biosfera, e a própria nooesfera. As várias estórias acerca das alterações climáticas são, para diversos cientistas (sistematicamente silenciados), muito duvidosas. É que há muitas causas para as mudanças climáticas periódicas que são mal conhecidas.
É razoável admitir, então, que, independentemente das incertezas, seria importante descarbonizar, desde já, a economia. Por uma questão de prudência.
O AUMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉCTRICA
Contudo, e porque isso significa gastar milhares de milhões de euros ou dólares, há que balancear com prudência os custos e os benefícios deste colossal investimento público e privado. Porque, ao gastarem-se estes recursos financeiros nesta frente, isso determina que eles rareiem em outros campos essenciais para a humanidade, como o combate às endemias, à fome e à iliteracia. Mais, é necessário perceber que a mobilização destes montantes financeiros significa, no actual modo de produção dominante, que os consumidores e utentes de bens e serviços essenciais acabam sempre a desembolsar muito mais. Em certos países, como Portugal, significaria perder competitividade económica, ou seja, aumentar o deficit e o desemprego. Por outro lado, as empresas que fornecem bens e serviços "livres de GEE", e que foram, entretanto, privatizadas, não prescindem dos seus lucros escandalosos. Veja-se, entre nós, o inqualificável caso do aumento das tarifas eléctricas, devido, entre outras causas, às eólicas e outras energias renováveis subsidiadas – cuja exploração aparece justificada pelas alterações climáticas –, e os pornográficos lucros das empresas produtoras, como a EDP, por exemplo.
Em suma: não é nada pacífico considerar que a causa principal do aquecimento do planeta – se esta tendência se mantiver – sejam as emissões antropogénicas de dióxido de carbono. No entanto, o poder político dominante, quer impor, de qualquer maneira, que essa seja a Única Verdade. Tudo o mais é inconveniente. Veja-se, por exemplo, a enorme trapalhada em que se envolveram alguns cientistas no chamado Climagate que ensombrou a COP15.
Há dúvidas essenciais sobre a ligação entre os GEE (Gases com efeito de estufa) e o aquecimento global. Designadamente aquelas que têm a ver com o referencial temporal que os cientistas utilizam para proceder àquela correlação - cerca de 150 anos de registos fiáveis -, e que muitos consideram insuficiente para estabelecer uma teoria sólida sobre as causas de aquecimento de um planeta que subsiste há milhares de anos. Esta dúvida foi, finalmente, assumida pela ONU, que, em Março de 2010, iniciou uma revisão das Conclusões do 4º Relatório do IPCC, precisamente na sequência das críticas aventadas antes e durante a COP15.
Em Outubro de 2008, uma das principais missões da dinamarquesa Connie Hedgaard, ministra para os assuntos da energia e clima no seu país, era a de preparar a Conferência Sobre Mudança Climática que se realizaria, sob a égide das Nações Unidas, em Dezembro de 2009, na cidade de Copenhaga.
Numa entrevista dada à revista Veja – edição 2081 – a ministra dava conta dos seus entusiasmos e preocupações e, perante uma questão colocada pelo jornalista (Qual é o principal indício do aquecimento global?), deu a seguinte resposta: – "Em 2004, quando fui nomeada ministra do Meio Ambiente, recebi a informação de que em trinta anos a fusão do gelo do Árctico iria permitir a navegação entre o Mar do Norte e o Oceano Pacífico. Decorreram apenas quatro anos e, no último mês, a passagem já ficou livre do gelo. Ou seja, a abertura ocorreu muito antes do previsto!"
Acontece, porém, que houve um navegador português, de nome David Melgueiro , que, ao serviço da Holanda, terá saído do Japão em Março de 1660, cruzou parte do Oceano Pacífico, passou no Estreito de Bering, atravessou todo o espaço oceânico árctico roçando, acima do arquipélago Svalbard, os 84º de latitude norte, descendo depois pelo espaço-canal entre a Islândia e a Irlanda, já no Atlântico, para chegar à foz do Douro em 1662.
E, que se saiba, O Pai Eterno – assim se chamava a embarcação usada por Melgueiro – não era um cruzador couraçado e também não é provável que tenha sido apoiado por quebra-gelos movido a energia nuclear. Pelo contrário, tratava-se de uma daquelas construções em madeira apenas um pouco mais evoluída do que as simples caravelas.
Se, em meados do séc. XVII, já não havia, naquelas tiritantes latitudes, gelo suficiente para travar uma frágil casca de noz, duas hipóteses se colocam: ou houve alguma nova glaciação entre os séculos XVII e o XX, ou, então, no tempo de Melgueiro, verificaram-se alterações climáticas suficientemente fortes para que se verificasse um significativo degelo, que, por certo, não se deveu, a ter acontecido, a gases com efeito de estufa de origem antropomórfica.
No que respeita à política de ambiente internacional no pós-Copenhaga (que foi um fiasco) é necessário reter que, sendo certo que a preservação da atmosfera terrestre deverá ser uma responsabilidade dos diversos países, é também claro que a influência que cada um desses países exerceu sobre a atmosfera ao longo da história – e a que ainda hoje exerce – é muito diferente, o que determina que aquela responsabilidade tenha de ser diferenciada.
Por outro lado, a definição da responsabilidade de cada país no esforço global de redução de emissões terá, pelas mesmas razões de justiça, que ter em conta os referenciais socioeconómicos das respectivas populações.
As emissões per capita da China são quatro vezes inferiores às dos EUA e cerca de metade da média das emissões da UE. A Índia tem cerca de um décimo das emissões médias da UE e vinte vezes menos do que as dos EUA. Neste momento, na Índia, há cerca de 500 milhões de pessoas sem acesso à electricidade.
São, assim, descabidas e injustas as tentativas de responsabilizar estes e outros países – os da ALBA, por exemplo – pelo fracasso de Copenhaga. Apenas a cegueira dos ecoliberais, empenhadíssimos nos chorudos negócios propiciados pelo mercado do carbono e pelo market enablement das renováveis, justifica a tentativa de impor restrições aos países e povos que se querem desenvolver mas que não podem dar-se ao luxo de consumir "carvão limpo" ou usar apenas energia eólica e solar para produzir electricidade (como se isso fosse viável).
"The planet has a fever ", afirmou Al Gore num discurso proferido no Congresso norte-americano, em Março de 2007, incluído na sua cruzada contra as alterações climáticas. Já se percebeu, contudo, que este fantástico paladino ambiental tem vários negócios "ambientalmente correctos", todos eles na linha do preconizado no 4º Relatório do IPCC, que veio estabelecer, apressadamente, um nexo entre a industrialização e os hábitos de consumo de uma sociedade movida a carbono e o aquecimento global.
A mitigação dos efeitos do CO2 é urgente diz o IPCC, e isso passaria pela imediata redução das emissões de GEE (Protocolo de Quioto), através da introdução de tecnologias mais limpas, na implementação de técnicas que propiciem eficiência energética e na progressiva reconversão das fontes de energia fóssil densamente poluentes por fontes renováveis tendencialmente limpas. É, não haja dúvida, uma música linda! Teríamos, assim, o soft way referido por Lovins na sua obra The energy controversy (1977), em que se recorreria de forma intensiva a novas formas de produção de energia (electricidade) através do vento, do sol e das marés.
Vivemos, na actualidade, mergulhados na perversa omnipresença de um debate centrado na questão dos GEE, em particular do CO2, preterindo outros assuntos muito mais relevantes como sejam, a protecção da biodiversidade, o acesso à água, a luta contra a desertificação, para além da já citada necessidade de combater a fome, as epidemias, as desigualdades e a iliteracia. Mas, estas questões, que não geram economias específicas e negócios lucrativos, não são, por isso, prioridades para a UE e EUA. Além disso, não serviriam para atacar os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).
A ditadura das alterações climáticas desencadeou, sem dúvida, um movimento de reconversão da produção energética (electricidade) a partir do voluntarismo da Europa. Em Portugal, o governo diz que são os campeões deste movimento.
Apesar da simpatia que merecem as fontes renováveis utilizadas para produzir electricidade, são muito grandes as dúvidas sobre a justeza e sustentabilidade desta opção, nomeadamente quando se pretende fazer acreditar que elas seriam suficientes, por si só, para sustentarem os consumos mundiais crescentes.
A herança de Quioto no plano do incentivo às energias renováveis tornou-se numa moda pujante e inquestionada pelos media. Tanto no plano da geração de electricidade, como ao nível da produção de biocombustíveis para alimentar as frotas rodoviárias e marítimas, as tecnologias de aproveitamento de fontes de energia renovável proliferam e desafiam a imaginação.
Porém, esta reconversão energética pós-moderna e ecoliberal não só agiganta brutalmente os custos financeiros dos investimentos iniciais, como, de facto, avoluma os impactos sociais e ambientais.
A CONVERSA BEATA DAS RENOVÁVEIS
O aproveitamento de fontes de energia renováveis implica investimentos iniciais vultuosos porque incluem custos "frescos" de investigação científica e experimentação, significam a construção de miríades de pequenas centrais electroprodutoras, a extensa reconversão agrícola ou silvícola para a produção de biocombustíveis, a extensão e reforço da rede de transporte e distribuição eléctrica bidireccional e, ainda, o investimento em centrais convencionais (térmicas ou hidroeléctricas) devido ao carácter intermitente e aleatório das fontes renováveis (sol, vento, ondas), custos que se reflectem na factura energética. Os consumidores, previamente mentalizados que devem contribuir para o esforço contra o aquecimento global, não têm outro remédio do que pagar mais. E ainda ficam agradecidos por puderem colaborar na "missão" de combate ao aquecimento global!
Não há dúvida que é um esquema genial, este, o que foi montado pelos ecoliberais! Muitos deles andaram, há trinta anos atrás, na campanha pela liberalização e privatização das empresas energéticas, dizendo que, com isso, a energia seria mais barata.
Cumpre dizer que estas "novas" fontes de energia (conhecidas há centenas de anos) são devoradoras de espaço, são intermitentes e não são inócuas, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista social. Basta citar que a desflorestação da Amazónia, para propiciar a cultura da cana-de-açúcar e outras matérias-primas bioenergéticas, constitui uma emenda pior que o soneto. E que a utilização do milho para produzir álcool fez disparar os seus preços, determinando o aumento insustentável do custo da alimentação dos povos da América Central.
É interessante registar que toda esta questão baralhou os referenciais político-ideológicos: há uma direita neoliberal que diz que a responsabilidade desta novel orientação é de uma designada "esquerda ecotópica", formada pelos partidos socialistas (sociais-democratas, trabalhistas, democratas) coligada aos movimentos ecologistas, que seria caracterizada por uma ideologia pós-moderna, anti-científica, e com muitos interesses económicos misturados. Chega-se mesmo a defender que esta "esquerda" teria muito em comum com o pensamento mágico, elitista e utópico do nacional-socialismo, só não sendo, por enquanto, nacionalista e violenta.
Por outro lado, a esquerda científica (marxista) correlaciona esta política ambiental, centrada nas teses do IPCC, com as lideranças neoliberais que, assim, ensaiariam uma manobra de diversão para refrescar o sistema capitalista.
De facto, os dois pontos de vista podem ser concatenados se considerarmos que, hoje em dia, os partidos "socialistas" se tornaram nos pontas de lança de um neoliberalismo assanhado que está, de facto, a provocar um terrível arrefecimento global socioeconómico. Ver também:
Bastará, contudo, que o sol desponte, para que os crentes no global warming voltem a atacar, alertando para o degelo do Ártico. E, se o calor escassear, não hesitam em socorrerem-se dos tornados e outros eventos meteorológicos mais radicais, que por vezes ocorrem, para agitarem o papão das alterações climáticas catastróficas.
Em grande parte da Europa, os aeroportos, as vias-férreas e as auto-estradas ficaram inoperacionais durante vários dias. Deveu-se isto a uma massa de ar gelado proveniente de latitudes árcticas, que chegou para congelar as pequenas ondas dos lagos dos parques londrinos e das fontes romanas. Ora isto é espantoso: – então, o ar congela as águas no continente europeu, mas, no próprio Árctico, de onde vem, não funciona?!
Com o presente artigo, pretende-se alertar os leitores para deriva ecoliberal, em que os grandes poderes políticos e económicos vêem incorrendo, apoiando-se nas discutíveis teorias do IPCC – Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, que servem de partida para a os lucrativos negócios em torno da economia do carbono. De facto, muitas dezenas de cientistas em todo o mundo já demonstraram que a teoria antropogénica do aquecimento global não está confirmada cientificamente. É uma hipótese, nada mais.
Mas, então, e não obstante todas as dúvidas existentes, por que razão os centros de decisão política neoliberais foram tão apressados em adopta-la como doutrina oficial, apontando medidas correctivas para "salvar o mundo" numa panóplia de soluções mitigadoras? Qual é o interesse dos media ao reproduzirem acriticamente tudo o que é anunciado como uma Verdade inquestionável? E por que motivo o caudal informativo sobre a "catástrofe ambiental" convence os consumidores de notícias e, entre eles, pessoas bem informadas e inseridas em partidos de esquerda?
Os alarmes relativamente ao degelo no Árctico não são novos nem inéditos: muito antes dos satélites americanos terem "visto", em 2007, aquilo que disseram ser a evidencia do degelo no Ártico, os marinheiros, pescadores e navegadores contavam que, no Verão, o clima é muito instável naquelas latitudes, e ora há degelo, ora a água recongela, e é isso que torna a navegação muito perigosa naqueles mares. Os russos, naturalmente, conhecem bem aquelas águas.
Uma notícia publicada no The Washington Post, em 2 de Novembro de 1922, baseada num relatório governamental do United States Department of Commerce, com origem nas informações recolhidas pelo cônsul americano na Noruega, chamava a atenção para as alterações que estavam a verificar-se no Árctico: as águas aqueciam, os icebergs desapareciam, as focas ressentiam-se e os ursos polares estavam a desaparecer. Enfim, já então eram só desgraças!
Naquele tempo a repercussão internacional, pelo menos no mundo ocidental, foi enorme. Estava-se perante uma alteração drástica de toda a região do Árctico, dizia-se.
Em 1922, o dióxido de carbono (CO2) não estava na agenda de ninguém. As emissões antropogénicas deste gás que, note-se, não é um poluente, eram muitíssimo menores do que são no presente. Simplesmente havia, como hoje, outros mecanismos responsáveis pela evolução climática, mecanismos esses com muito mais importância do que o inocente CO2.
Naquela época, a Organização Mundial de Meteorologia anunciou que a temperatura média global cresceria a uma taxa próxima da que veio, de facto, a verificar-se muito mais tarde, no período de 1970 a 1990, e que deu oportunidade ao IPCC e seus seguidores para fazerem o grande alarido que conhecemos.
C02, O PSEUDO VILÃO UNIVERSAL
A situação do Árctico, com ou sem satélites meteorológicos, com ou sem IPCC, repete-se desde tempos imemoriais. A diferença é que, actualmente, há uma agenda ecoliberal, segundo a qual faça chuva ou faça sol, faça uma onda de calor ou uma vaga de frio, ou, até, sismos, erupções vulcânicas ou tsunamis, tudo é culpa do CO2.
Esclareçamos, com maior pormenor, a opinião crítica aqui registada e que se fundamenta nos trabalhos eruditos de muitos estudiosos destas matérias em todo o mundo.
As diversas actividades industriais, que se vêem intensificando desde a revolução industrial, numa primeira fase impulsionada pela utilização da máquina de vapor accionada a carvão, e, depois, pela electricidade (gerada a partir do potencial hídrico e do carvão) e pelo petróleo, colocam um severo problema de gestão de recursos naturais, e, entre eles, o do esgotamento a médio prazo do petróleo, cujo Pico produtivo estaremos a atingir na actualidade, e, mais tarde, de forma inevitável, do gás natural e do carvão. O próprio urânio, se consumido na produção de electricidade com as melhores tecnologias já hoje disponíveis, também se esgotará em menos de cem anos.
O ritmo de extracção dos recursos naturais e o crescendo das emissões poluentes resultantes da indústria e dos transportes, foram acelerados à medida que o modo de produção capitalista se impôs mundialmente. Este modo de produção, a par da sua força revolucionária inicial, é, por natureza, predatório e desregulado. E o seu poder adaptativo tem, inclusive, o condão de contaminar as alternativas políticas e económicas socialistas que se formaram em diversas regiões eurasiáticas, pressionando-as a "competir" com ele em vários tabuleiros e, assim, levando-as a não conseguirem originar um forma de produção industrial alternativa e sustentável. E, quando não vai lá através do binómio competição-sedução, recorre aos bloqueios ou à agressão bélica.
É possível que as diversas actividades humanas, que trazem sempre consigo diversos tipos de impactes – a desflorestação, a produção de metano pela agro-pecuária, a alteração dos solos, os resíduos produzidos pelos quase sete mil milhões de seres humanos, a emissão de CO2 industrial e nos transportes (e nas queimadas e incêndios) e de poluentes líquidos, sólidos e gasosos, etc., – contribuam, com uma percentagem significativa, para algumas das alterações climáticas que se fazem notar no planeta. No entanto, pode afirmar-se com segurança, que não é possível provar, ou imaginar sequer, um padrão de correlação causa-efeito solidamente estabelecido e indiscutível.
A caracterização e quantificação destas mudanças tem muitas incertezas e, por via disso, é difícil afirmar, com razoável segurança e seriedade, qual a data a partir da qual elas, as alterações climáticas, afectariam significativamente a geosfera, a biosfera, e a própria nooesfera. As várias estórias acerca das alterações climáticas são, para diversos cientistas (sistematicamente silenciados), muito duvidosas. É que há muitas causas para as mudanças climáticas periódicas que são mal conhecidas.
É razoável admitir, então, que, independentemente das incertezas, seria importante descarbonizar, desde já, a economia. Por uma questão de prudência.
O AUMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉCTRICA
Contudo, e porque isso significa gastar milhares de milhões de euros ou dólares, há que balancear com prudência os custos e os benefícios deste colossal investimento público e privado. Porque, ao gastarem-se estes recursos financeiros nesta frente, isso determina que eles rareiem em outros campos essenciais para a humanidade, como o combate às endemias, à fome e à iliteracia. Mais, é necessário perceber que a mobilização destes montantes financeiros significa, no actual modo de produção dominante, que os consumidores e utentes de bens e serviços essenciais acabam sempre a desembolsar muito mais. Em certos países, como Portugal, significaria perder competitividade económica, ou seja, aumentar o deficit e o desemprego. Por outro lado, as empresas que fornecem bens e serviços "livres de GEE", e que foram, entretanto, privatizadas, não prescindem dos seus lucros escandalosos. Veja-se, entre nós, o inqualificável caso do aumento das tarifas eléctricas, devido, entre outras causas, às eólicas e outras energias renováveis subsidiadas – cuja exploração aparece justificada pelas alterações climáticas –, e os pornográficos lucros das empresas produtoras, como a EDP, por exemplo.
Em suma: não é nada pacífico considerar que a causa principal do aquecimento do planeta – se esta tendência se mantiver – sejam as emissões antropogénicas de dióxido de carbono. No entanto, o poder político dominante, quer impor, de qualquer maneira, que essa seja a Única Verdade. Tudo o mais é inconveniente. Veja-se, por exemplo, a enorme trapalhada em que se envolveram alguns cientistas no chamado Climagate que ensombrou a COP15.
Há dúvidas essenciais sobre a ligação entre os GEE (Gases com efeito de estufa) e o aquecimento global. Designadamente aquelas que têm a ver com o referencial temporal que os cientistas utilizam para proceder àquela correlação - cerca de 150 anos de registos fiáveis -, e que muitos consideram insuficiente para estabelecer uma teoria sólida sobre as causas de aquecimento de um planeta que subsiste há milhares de anos. Esta dúvida foi, finalmente, assumida pela ONU, que, em Março de 2010, iniciou uma revisão das Conclusões do 4º Relatório do IPCC, precisamente na sequência das críticas aventadas antes e durante a COP15.
Em Outubro de 2008, uma das principais missões da dinamarquesa Connie Hedgaard, ministra para os assuntos da energia e clima no seu país, era a de preparar a Conferência Sobre Mudança Climática que se realizaria, sob a égide das Nações Unidas, em Dezembro de 2009, na cidade de Copenhaga.
Numa entrevista dada à revista Veja – edição 2081 – a ministra dava conta dos seus entusiasmos e preocupações e, perante uma questão colocada pelo jornalista (Qual é o principal indício do aquecimento global?), deu a seguinte resposta: – "Em 2004, quando fui nomeada ministra do Meio Ambiente, recebi a informação de que em trinta anos a fusão do gelo do Árctico iria permitir a navegação entre o Mar do Norte e o Oceano Pacífico. Decorreram apenas quatro anos e, no último mês, a passagem já ficou livre do gelo. Ou seja, a abertura ocorreu muito antes do previsto!"
Acontece, porém, que houve um navegador português, de nome David Melgueiro , que, ao serviço da Holanda, terá saído do Japão em Março de 1660, cruzou parte do Oceano Pacífico, passou no Estreito de Bering, atravessou todo o espaço oceânico árctico roçando, acima do arquipélago Svalbard, os 84º de latitude norte, descendo depois pelo espaço-canal entre a Islândia e a Irlanda, já no Atlântico, para chegar à foz do Douro em 1662.
E, que se saiba, O Pai Eterno – assim se chamava a embarcação usada por Melgueiro – não era um cruzador couraçado e também não é provável que tenha sido apoiado por quebra-gelos movido a energia nuclear. Pelo contrário, tratava-se de uma daquelas construções em madeira apenas um pouco mais evoluída do que as simples caravelas.
Se, em meados do séc. XVII, já não havia, naquelas tiritantes latitudes, gelo suficiente para travar uma frágil casca de noz, duas hipóteses se colocam: ou houve alguma nova glaciação entre os séculos XVII e o XX, ou, então, no tempo de Melgueiro, verificaram-se alterações climáticas suficientemente fortes para que se verificasse um significativo degelo, que, por certo, não se deveu, a ter acontecido, a gases com efeito de estufa de origem antropomórfica.
No que respeita à política de ambiente internacional no pós-Copenhaga (que foi um fiasco) é necessário reter que, sendo certo que a preservação da atmosfera terrestre deverá ser uma responsabilidade dos diversos países, é também claro que a influência que cada um desses países exerceu sobre a atmosfera ao longo da história – e a que ainda hoje exerce – é muito diferente, o que determina que aquela responsabilidade tenha de ser diferenciada.
Por outro lado, a definição da responsabilidade de cada país no esforço global de redução de emissões terá, pelas mesmas razões de justiça, que ter em conta os referenciais socioeconómicos das respectivas populações.
As emissões per capita da China são quatro vezes inferiores às dos EUA e cerca de metade da média das emissões da UE. A Índia tem cerca de um décimo das emissões médias da UE e vinte vezes menos do que as dos EUA. Neste momento, na Índia, há cerca de 500 milhões de pessoas sem acesso à electricidade.
São, assim, descabidas e injustas as tentativas de responsabilizar estes e outros países – os da ALBA, por exemplo – pelo fracasso de Copenhaga. Apenas a cegueira dos ecoliberais, empenhadíssimos nos chorudos negócios propiciados pelo mercado do carbono e pelo market enablement das renováveis, justifica a tentativa de impor restrições aos países e povos que se querem desenvolver mas que não podem dar-se ao luxo de consumir "carvão limpo" ou usar apenas energia eólica e solar para produzir electricidade (como se isso fosse viável).
"The planet has a fever ", afirmou Al Gore num discurso proferido no Congresso norte-americano, em Março de 2007, incluído na sua cruzada contra as alterações climáticas. Já se percebeu, contudo, que este fantástico paladino ambiental tem vários negócios "ambientalmente correctos", todos eles na linha do preconizado no 4º Relatório do IPCC, que veio estabelecer, apressadamente, um nexo entre a industrialização e os hábitos de consumo de uma sociedade movida a carbono e o aquecimento global.
A mitigação dos efeitos do CO2 é urgente diz o IPCC, e isso passaria pela imediata redução das emissões de GEE (Protocolo de Quioto), através da introdução de tecnologias mais limpas, na implementação de técnicas que propiciem eficiência energética e na progressiva reconversão das fontes de energia fóssil densamente poluentes por fontes renováveis tendencialmente limpas. É, não haja dúvida, uma música linda! Teríamos, assim, o soft way referido por Lovins na sua obra The energy controversy (1977), em que se recorreria de forma intensiva a novas formas de produção de energia (electricidade) através do vento, do sol e das marés.
Vivemos, na actualidade, mergulhados na perversa omnipresença de um debate centrado na questão dos GEE, em particular do CO2, preterindo outros assuntos muito mais relevantes como sejam, a protecção da biodiversidade, o acesso à água, a luta contra a desertificação, para além da já citada necessidade de combater a fome, as epidemias, as desigualdades e a iliteracia. Mas, estas questões, que não geram economias específicas e negócios lucrativos, não são, por isso, prioridades para a UE e EUA. Além disso, não serviriam para atacar os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).
A ditadura das alterações climáticas desencadeou, sem dúvida, um movimento de reconversão da produção energética (electricidade) a partir do voluntarismo da Europa. Em Portugal, o governo diz que são os campeões deste movimento.
Apesar da simpatia que merecem as fontes renováveis utilizadas para produzir electricidade, são muito grandes as dúvidas sobre a justeza e sustentabilidade desta opção, nomeadamente quando se pretende fazer acreditar que elas seriam suficientes, por si só, para sustentarem os consumos mundiais crescentes.
A herança de Quioto no plano do incentivo às energias renováveis tornou-se numa moda pujante e inquestionada pelos media. Tanto no plano da geração de electricidade, como ao nível da produção de biocombustíveis para alimentar as frotas rodoviárias e marítimas, as tecnologias de aproveitamento de fontes de energia renovável proliferam e desafiam a imaginação.
Porém, esta reconversão energética pós-moderna e ecoliberal não só agiganta brutalmente os custos financeiros dos investimentos iniciais, como, de facto, avoluma os impactos sociais e ambientais.
A CONVERSA BEATA DAS RENOVÁVEIS
O aproveitamento de fontes de energia renováveis implica investimentos iniciais vultuosos porque incluem custos "frescos" de investigação científica e experimentação, significam a construção de miríades de pequenas centrais electroprodutoras, a extensa reconversão agrícola ou silvícola para a produção de biocombustíveis, a extensão e reforço da rede de transporte e distribuição eléctrica bidireccional e, ainda, o investimento em centrais convencionais (térmicas ou hidroeléctricas) devido ao carácter intermitente e aleatório das fontes renováveis (sol, vento, ondas), custos que se reflectem na factura energética. Os consumidores, previamente mentalizados que devem contribuir para o esforço contra o aquecimento global, não têm outro remédio do que pagar mais. E ainda ficam agradecidos por puderem colaborar na "missão" de combate ao aquecimento global!
Não há dúvida que é um esquema genial, este, o que foi montado pelos ecoliberais! Muitos deles andaram, há trinta anos atrás, na campanha pela liberalização e privatização das empresas energéticas, dizendo que, com isso, a energia seria mais barata.
Cumpre dizer que estas "novas" fontes de energia (conhecidas há centenas de anos) são devoradoras de espaço, são intermitentes e não são inócuas, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista social. Basta citar que a desflorestação da Amazónia, para propiciar a cultura da cana-de-açúcar e outras matérias-primas bioenergéticas, constitui uma emenda pior que o soneto. E que a utilização do milho para produzir álcool fez disparar os seus preços, determinando o aumento insustentável do custo da alimentação dos povos da América Central.
É interessante registar que toda esta questão baralhou os referenciais político-ideológicos: há uma direita neoliberal que diz que a responsabilidade desta novel orientação é de uma designada "esquerda ecotópica", formada pelos partidos socialistas (sociais-democratas, trabalhistas, democratas) coligada aos movimentos ecologistas, que seria caracterizada por uma ideologia pós-moderna, anti-científica, e com muitos interesses económicos misturados. Chega-se mesmo a defender que esta "esquerda" teria muito em comum com o pensamento mágico, elitista e utópico do nacional-socialismo, só não sendo, por enquanto, nacionalista e violenta.
Por outro lado, a esquerda científica (marxista) correlaciona esta política ambiental, centrada nas teses do IPCC, com as lideranças neoliberais que, assim, ensaiariam uma manobra de diversão para refrescar o sistema capitalista.
De facto, os dois pontos de vista podem ser concatenados se considerarmos que, hoje em dia, os partidos "socialistas" se tornaram nos pontas de lança de um neoliberalismo assanhado que está, de facto, a provocar um terrível arrefecimento global socioeconómico. Ver também:
- Aquecimento global: uma impostura científica , Marcel Leroux
- A fábula do aquecimento global , Marcel Leroux
- A fabricação do pânico climático , Rui G. Moura
- A paranóia do dióxido de carbono , Rui G. Moura
- Acerca da impostura global , Jorge Figueiredo
- Aquecimento global: origem e natureza do alegado consenso científico , Richard S. Lindzen
- A falsificação da história climática a fim de "provar" o aquecimento global , John L. Daly
- Aquecimento global: Uma mentira conveniente , Andrew Marshall
- O comércio multibilionário em derivativos do carbono , Washington's Blog
- Se mais CO2 for mau... E daí? , Robert Bryce
- A ciência do clima: Observações versus modelos , Richard K. Moore
- Adensa-se o escândalo dos impostores do aquecimento global , Paul Joseph Watson
- O fim do aquecimento global , Art Horn
- Climagate: O pior escândalo científico da nossa era , Christopher Booker
- A jogada empresarial do clima , David F. Noble
- Lamento estragar a diversão, mas vem aí uma idade do gelo , Phil Chapman
- A verdade incómoda do profeta Al Gore & a incomodidade da verdade , Alfonso del Val
- A histeria do aquecimentismo global , Rex Murphy
- Repensar a política do clima!
- Contra as mistificações do Relatório Climático da ONU , Natural Resources Stewardship Project
- Ar quente & dinheiro frio – os comerciantes do medo , Alexander Cockburn
- Cientistas descartam a mentira do aquecimento global , WorldNetDaily
- Carta aberta de 60 cientistas a convidar o primeiro-ministro do Canadá a reflectir sobre a teoria aquecimento global
- Carta aberta ao secretário-geral da ONU e aos chefes de Estado que subscreveram o acordo para novo tratado