Antonio Ozaí da Silva
Na obra 1984, de George Orwell, o Estado totalitário cria a novilíngua (newspeak). O objetivo é restringir o pensamento a partir da condensação e remoção do sentido das palavras. O controle da linguagem tem como meta o controle do pensamento. Se o vocabulário das pessoas é restrito ao básico e elementar, dificulta-se o pensar: o que não pode ser expressado em palavras, não existe. Portanto, não há como pensar sobre isto. A novilíngua expele da linguagem palavras que possam representar pensamentos errados, ou seja, críticos ou dissidentes. Se ocorrer, será tratado como uma crimidéia.
Um dos termos da novilíngua é o duplipensar. Esta palavra se refere à capacidade de aceitar crenças contraditórias e de utilizá-las de acordo com a mudança de contextos. Assim, ainda que a nova diretriz do partido seja oposta ao que se afirmava até então, ela é racionalmente aceita a partir da lógica do duplipensar. A realidade, portanto, é amoldada à vontade do Big Brother.
Podemos aplicar o duplipensar à palavra democracia. Eis uma palavra tripudiada na história e utilizada ao bel-prazer dos interesses em disputa. Assim, derrubam-se governos democraticamente eleitos em nome da democracia; ditaduras impostas pelas armas e o apoio econômico e político do Império, falam em democracia e liberdade. No Brasil, por exemplo, uma peça de propaganda do Governo do Marechal Costa e Silva (1967-1969), afirmava: “O Brasil pode estar certo de que as Forças Armadas estão capacitadas para assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça” .[1] E foi justamente este governo quem promulgou, em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional nº 5. AI 5 cassou parlamentares, fechou o Congresso Nacional, instituiu o Estado de Sítio, com o direito de prorrogá-lo, suspendeu a garantia do habeas-corpus e deu liberdade ao governo federal para intervir nos Estados e municípios.
Eis um dos paradoxos da democracia: sua afirmação enquanto retórica mascara sua negação de fato.
A Constituição Brasileira de 1988, em seu Artigo 1º, parágrafo único, afirma: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O fundamento do exercício do poder político legítimo é, portanto, o consentimento do povo. Mas, o que é o “povo”? A categoria universal “povo” dissimula uma realidade social desigual e contraditória. A democracia afirmada na letra da Carta funda-se sobre a igualdade de direitos: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade…”.
A afirmação da igualdade no plano formal-jurídico obscurece a desigualdade realmente existente entre os indivíduos considerados cidadãos. A cidadania estabelece o reino fictício da igualdade – perante o Estado – mas encobre a desigualdade real no plano econômico e das condições materiais de vida. A propaganda do TSE tenta nos convencer de que somos, o trabalhador sem-terra é igual ao latifundiário ou empresário do agronegócio, que os operários são iguais aos seus empregadores, que os bancários estão no mesmo pé de igualdade dos banqueiros. O que os tornam iguais? O poder do voto. Mas, será que o poder econômico não desequilibra a balança da política? E, por outro lado, em que consiste realmente o “poder do voto”? Por acaso, a maioria dos eleitores têm influência sobre a escolha dos candidatos que se apresentam periodicamente ao sufrágio? Quem escolhe os candidatos? Quem financia suas campanhas?
[1] Ver o documentário “Cidadão Boilesen” (Brasil, 2009, 92 min. – Dir: Chaim Litewski).
São as estruturas partidárias quem escolhem os candidatos. E nem sempre por métodos democráticos. Na verdade, é da luta nos bastidores entre os caciques, os quadros mais proeminentes e que controlam os partidos, que saem os candidatos impostos “democraticamente” à massa dos filiados. No caso do PT, foi o poder de influência de um único indivíduo que impôs a candidatura da senhora Dilma, até então desconhecida do grande público. Lula criou o seu avatar, o partido abençoou e pede-se aos eleitores que a consagrem. Mesmo nos partidos à esquerda do PT, o processo não é muito diferente. Se não há uma liderança que se imponha, os quadros partidários digladiam-se ‘democraticamente’ para escolher o candidato (a disputa no interior do PSOL, por exemplo, foi ferrenha). E há os eternos candidatos…
Em suma, é-nos dado o direito de escolher entre os escolhidos. Assim, a democracia é a democracia dos partidos. O poder do eleitor é negado no princípio do processo. Ele tem a ilusão de decidir, mas sua decisão se limita aos produtos que lhe são oferecidos. Ele é reduzido a um consumidor da política. Quem tem o poder de fato são os líderes e a burocracia dos partidos. O voto nos escolhidos fortalece o poder burocrático e dos que controlam o poder de candidatar-se ou bancar candidatos. O processo retroalimenta-se.
A ênfase no poder do voto individual dilui o poder real de intervenção política. Uma das peças publicitárias do TSE, dirigida aos jovens, apresenta uma passeata sem som, na qual se lêem os slogans “Queremos ser ouvidos” e “Queremos voz”. Ao entrar o áudio, uma voz afirma: “Faça o seu título de eleitor, seja ouvido”.[1] A idéia apregoada é que sem o título de eleitor não seremos ouvidos. Ora, invertem-se os valores e deforma-se a história. Na verdade, é a voz das ruas, passeatas, protestos, etc., com a participação de jovens, adultos, movimentos sociais organizados, que se faz ouvir. Inclusive para conquistar o direito de votar, o fim da ditadura civil-militar e a democratização do país. O sufrágio universal, que inclui os jovens entre 16 e 17 anos, é uma conquista das lutas sociais e não o contrário. A propaganda do TSE reduz a democracia à posse do título, como se esta fosse a única maneira de “ser ouvido”, ou, pelo menos a forma privilegiada.[2]
Outro vídeo do TSE esclarece o significado do voto na legenda e enfatiza que votar em branco é desperdiçar o voto (a imagem mostra o ‘voto’ jogado na lixeira).[3] Desse modo, ainda que no âmbito dos procedimentos exaustivamente classificados como exercício da democracia, deslegitima-se e desrespeita-se a decisão do eleitor em não conceder o seu voto a qualquer dos candidatos apresentados ao seu sufrágio. A legislação não considera o voto em branco (ou nulo) como válido. De qualquer forma, se o voto é um direito, por que desconsiderar o direito do eleitor em votar em branco ou anular?
Na verdade, o voto branco e nulo – consciente ou não – é uma forma de dizer que não concordamos com o sistema político, ou seja, com os políticos e os procedimentos para escolha da representação. Quanto maior a quantidade de votos válidos, maior a legitimação do sistema eleitoral; quanto maior o número de votos brancos e nulos, mais fica claro a crítica às limitações da democracia em voga.
É incoerente propagar os méritos democráticos da eleição, organizada nos moldes atuais, e, simultaneamente, desqualificar o direito democrático do eleitor em não escolher partidos e candidatos à caça do seu voto. Além do mais, o voto é obrigatório. Dessa forma, obriga-se a participar do processo e, ao mesmo tempo, estigmatiza-se o voto em branco (ou nulo), comparado a lixo. A democracia não deveria garantir a liberdade de não votar?
[2] Agora, com a última decisão do supremo, o título de eleitor deixa de ser importante até mesmo para votar, já que basta a apresentação de documento de identificação oficial com foto.






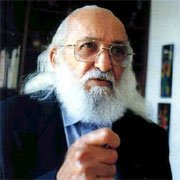


Nenhum comentário:
Postar um comentário