James Petra
Introdução
A política estadunidense com relação à Venezuela tem adotado muitos desvios táticos, mas o objetivo tem sido sempre o mesmo: derrotar o Presidente Hugo Chávez, inverter o processo de nacionalização das grandes empresas, abolir os conselhos comunitários e sindicais de base e devolver ao país a situação de estado cliente.
Washington financiou e respaldou politicamente um golpe militar no ano de 2002, um boicote patronal nos anos 2002-2003, um referendo e uma infinidade de tentativas de desestabilizar o regime por intermédio dos meios de comunicação, organizações políticas e ONGs. Até o momento, todos os esforços da casa Branca fracassaram; Chávez ganhou uma e outra vez em eleições livres, conservou a lealdade do exército e o respaldo da imensa maioria da população urbana e rural mais pobre, das avultadas es trabalhadoras e das es médias empregadas no setor público.
Washington não se resignou em aceitar o governo eleito do Presidente Chávez. Ao contrário, com cada derrota de seus colaboradores no interior do país, a Casa Branca foi adotando cada vez mais uma estratégia externa, erguendo um cordão militar poderoso ao redor da Venezuela com uma presença militar de grande escala que abarca toda a América Central, o norte da América do sul e o Caribe. A Casa Branca de Obama respaldou um golpe militar em Honduras que derrubou o governo eleito democraticamente do Presidente Zelaya (em junho de 2009), aliado de Chávez, e o substituiu por um regime títere que apóia as políticas militares de Washington contra Chávez. O Pentágono conseguiu estabelecer sete bases militares no leste da Colômbia (em 2009), que visam à fronteira venezuelana, graças a seu governante cliente, Álvaro Uribe, o célebre presidente narcoparamilitar. Em meados de 2010, Washington subscreveu um acordo sem precedentes com a aquiescência da Presidência direitista da Costa Rica, Laura Chinchilla, para destacar 7.000 soldados de combate estadunidenses, 200 helicópteros e dezenas de buques apontando para a Venezuela, com o pretexto da perseguição ao narcotráfico. Na atualidade, os EUA estão negociando com o regime direitista do presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, a possibilidade de reabrir uma base militar na antiga zona do canal. Juntamente com a Quarta Frota que patrulha as costas, 20.000 soldados no Haiti e uma base aérea em Aruba, Washington cercou a Venezuela pelo oeste e pelo norte, estabelecendo zonas de lançamento de tropas para uma intervenção direta, caso as circunstâncias internas se mostrem favoráveis.
A militarização da política da casa Branca para a América Latina, e para Venezuela em particular, forma parte de sua política global de confronto e intervenção armada. Sobretudo, o regime de Obama aumentou os alvos e o alcance das operações dos esquadrões da morte clandestinos que hoje em dia operam em 70 países de quatro continentes, aumentou a presença bélica no Afeganistão em mais de 30.000 soldados, mais outros 100.000 mercenários que atuam atravessando as fronteiras para penetrar no Paquistão e Irã, subministrando material e proporcionando apoio logístico a terroristas armados iranianos. Obama intensificou a provocação com manobras militares nas costas da Coréia do Norte e no Mar da China, o que suscitou protestos em Pequim. Igualmente revelador é o fato de que o regime de Obama aumentou o pressuposto militar em mais de um bilhão de dólares, apesar da crise econômica, do monumental déficit, dos chamamentos à austeridade e dos cortes na Previdência Social e em outros seguros sanitários como Medicare ou Medicaid.
Dizendo de outro modo: a atitude militar de Washington para a América Latina e, em especial para o governo socialista democrático do presidente Chávez, faz parte de uma resposta militar geral para qualquer país ou movimento que se negue a submeter-se ao domínio estadunidense. Aparece então uma pergunta: por que a casa Branca recorre à alternativa militar? Por que militariza a política exterior para obter resultados favoráveis frente a uma oposição firme? A resposta reside, em parte, na questão de que os Estados Unidos perderam quase toda a influência econômica que exercia anteriormente e o permitia derrubar ou submeter os governos rivais. A maior parte das economias asiáticas e latino-americanas alcançou certo grau de autonomia. Outras não dependem das organizações econômicas internacionais em que os Estados Unidos exercem influencia (FMI, Banco Mundial), pois obtém empréstimos comerciais. A maioria diversificou suas pautas comerciais e de investimento e articulou outros vínculos regionais. Em alguns países, como Brasil, Argentina, Chile ou Peru, a China substituiu os Estados Unidos como principal sócio comercial. A maior parte dos países já não busca ajuda estadunidense para estimular o crescimento, mas trata de forjar iniciativas conjuntas com empresas multinacionais, às vezes radicadas fora da América do Norte. Washington recorreu cada vez mais à opção militar até o ponto de que retorcer o braço econômico dos países deixou de ser uma ferramenta efetiva para garantir a obediência. Washington foi incapaz de reconstruir seus instrumentos de alavanca econômica internacionais até o extremo de que a elite financeira estadunidense esvaziou o setor industrial do país.
Os fracassos diplomáticos estrepitosos derivados de sua incapacidade para adaptar-se às transformações fundamentais do poder global também impulsionaram Washington a abandonar as negociações políticas e a comprometer-se com as intervenções e confrontos militares. Os legisladores estadunidenses ainda vivem congelados nas décadas de 1980 e 1990, época do apogeu dos governantes clientes e da pilhagem econômica, quando Washington recebia respaldo mundial, privatizava empresas, explorava o financiamento da dívida pública e raramente encontrava obstáculos no mercado internacional. No final da década de 90, auge do capitalismo asiático, as revoltas massivas contra o neoliberalismo, a ascensão de regimes de centro- esquerda na América Latina, as reiteradas crises econômicas, as grandes quedas da bolsa de valores do EUA e da EU e o aumento dos preços das mercadorias desembocou em uma reordenação do poder global. Os esforços de Washington para desenvolver políticas em sintonia com as décadas anteriores entravam em conflito com a nova realidade da diversificação dos mercados, as potências emergentes e os regimes políticos relativamente independentes vinculados às novas massas de eleitores.
As propostas diplomáticas de Washington de isolar Cuba e Venezuela foram rejeitadas por todos os países da América Latina. Rejeitaram a tentativa de reativar acordos de livre comércio que privilegiavam os exportadores estadunidenses e protegiam seus produtores competitivos. O regime de Obama, decidido a não reconhecer os limites do poder diplomático imperial nem a moderar suas propostas, recorreu cada vez mais à opção militar.
A luta pela reafirmação do poder imperial através de uma política intervencionista não deu resultados melhores que suas iniciativas diplomáticas. Os golpes de Estado na Venezuela (2002) e Bolívia (2008) foram derrotados pela mobilização popular massiva e pela lealdade do Exército aos regimes vigentes. Assim mesmo, na Argentina, Equador e Brasil, os regimes pós-neoliberais respaldados pelas elites industriais, mineiras e do setor agrícola exportador e pelas es populares conseguiram fazer retroceder as elites pró-estadunidenses neoliberais enraizadas na política da década de 1990 e anteriores. A política de desestabilização não conseguiu impedir a construção de políticas exteriores relativamente independentes destes novos governos, que se negaram a voltar à velha ordem da supremacia estadunidense.
Onde Washington recuperou terreno político com a eleição de regimes políticos direitistas, conseguiu graças à sua capacidade de aproveitar-se do desgaste da política de centro-esquerda (Chile), da fraude política e da militarização (México e Honduras), da decadência da esquerda popular nacional (Costa Rica, Panamá e Perú) e da consolidação de um estado policial enormemente militarizado (Colômbia). Estas vitórias eleitorais, principalmente na Colômbia, convenceram Washington que a alternativa militar, unida à intervenção e à exploração profunda dos processos eleitorais abertos, é a maneira de frear o giro à esquerda na América Latina, sobretudo na Venezuela.
A política estadunidense para Venezuela: combinar táticas militares e eleitorais.
Os esforços dos EUA para derrubar o governo democrático do presidente Chávez adotam muitas das táticas já aplicadas contra adversários democráticos anteriores. Entre elas se encontra o estabelecimento de forças militares e paramilitares colombianas nas fronteiras, algo semelhante aos ataques transfronteiriços da “contra” financiada pelos EUA para debilitar o governo sandinista da Nicarágua na década de 80. A tentativa de cercar e isolar a Venezuela se assemelha à política desenvolvida por Washington na segunda metade do século passado contra Cuba. A canalização de fundos para grupos, partidos políticos, meios de comunicação e ONGs opositores através de agências estadunidenses e fundações fictícias é uma reedição da tática empregada para desestabilizar o governo democrático de Salvador Allende no Chile, o de Evo Morales na Bolívia e muitos outros governos da região.
A política de Washington de utilizar múltiplas vias, na fase atual, está orientada para uma escalada da guerra de nervos, base para intensificar incessantemente as ameaças à segurança. As provocações militares, em parte, são uma tentativa de testar os dispositivos de segurança da Venezuela, com o objetivo de sondar os pontos fracos de sua defesa terrestre, marítima e aérea. Este tipo de provocação também faz parte de uma estratégia de desgaste, cujo objetivo é obrigar o governo de Chávez a pôr suas tropas defensivas em alerta e mobilizar a população para, a continuação, reduzir a pressão até o próximo ato de convocação. A intenção é desautorizar as alusões constantes do governo venezuelano às ameaças, com o fim de debilitar a vigilância e, quando as circunstâncias permitirem, dar o golpe oportuno.
A acumulação militar de Washington no exterior está concebida para intimidar os países do Caribe e América Central que puderam tratar de estabelecer relações econômicas mais estreitas com a Venezuela. A demonstração de força também está concebida para fomentar a oposição interna às ações mais agressivas. Ao mesmo tempo, a atitude de confrontação se dirige contra os setores fracos ou moderados do governo chavista que estão ansiosos e impacientes pela reconciliação, ainda pagando o preço de realizar concessões sem escrúpulos à oposição e ao novo regime colombiano do Presidente Santos. A presença militar crescente está concebida para tornar mais lento o processo de radicalização interna e para evitar o fortalecimento dos laços cada vez mais estreitos da Venezuela com Oriente Próximo e outros regimes contrários à hegemonia estadunidense. Washington está apostando que uma escalada militar e uma guerra psicológica que vincule a Venezuela a movimentos insurgentes revolucionários, como a guerrilha colombiana, desembocarão no distanciamento dos aliados e amigos latino-americanos de Chávez em relação ao seu regime. Igualmente importantes são as acusações sem fundamento vertidas por Washington, segundo as quais a Venezuela alberga acampamentos guerrilheiros das FARC, cuja intenção é pressionar Chávez para que reduza o apoio que presta a todos os movimentos sociais da região, incluindo o dos camponeses sem terra do Brasil, assim como as organizações não violentas de direitos humanos e os sindicatos da Colômbia. Washington busca a polarização política: EUA ou Chávez. Despreza a polarização política existente hoje, que enfrenta Washington com o MERCOSUL, a organização para a integração econômica na qual, junto com Venezuela, participam Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em sintonia com os países membros, ou com a ALBA (uma estrutura de integração econômica na qual participam Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador e alguns outros Estados caribenhos).
O Fator FARC
Obama e o atual ex-presidente Uribe acusaram a Venezuela de brindar um santuário para as guerrilhas colombianas (FARC e ELN). Na realidade, trata-se de uma argúcia para pressionar o presidente Chávez a denunciar ou, no mínimo, pedir para que as FARC abandonem a luta armada com as condições impostas pelos regimes estadunidense e colombiano.
Contrariamente aos alardes do ex-presidente Uribe e do Departamento de Estado estadunidense, segundo os quais as FARC são um resíduo decadente, isolado e vencido como consequência de campanhas contrainsurgentes vitoriosas, um estudo de campo minucioso realizado por um investigador colombiano, A guerra contra as FARC e a guerra das FARC, demonstra que nos últimos anos a guerrilha consolidou sua influência em mais de um terço do país, e que o regime de Bogotá controla apenas a metade do país. Depois de sofrer derrotas importantes em 2008, as FARC e o ELN avançaram de forma sustentada durante os anos de 2009 e 2010, causando mais de 1.300 baixas militares no ano passado e, seguramente, quase o dobro este ano (La Jornada, 8 de junho de 2010). O ressurgir e o avanço das FARC são uma importância fundamental no que se refere à campanha militar de Washington contra a Venezuela. Também refletem a posição de seu “aliado estratégico”: o regime de Santos. Em primeiro lugar, demonstram que, mesmo com mais 6 bilhões de dólares de ajuda militar estadunidense à Colômbia, sua campanha contra a insurgência para “exterminar” as FARC fracassou. Em segundo lugar, a ofensiva das FARC abre uma “segunda frente” na Colômbia, o que debilita toda a tentativa de empreender a invasão da Venezuela utilizando a Colômbia como “trampolim”. Em terceiro lugar, ante uma luta de es interna mais intensa, é provável que o novo presidente Santos trate de aliviar as tensões com a Venezuela, com a esperança de remanejar tropas destacadas na fronteira com seu vizinho para destinar-las à luta contra a crescente insurgência guerrilheira. Em certo sentido, apesar dos receios de Chávez sobre a guerrilha e dos apelos para o fim da luta guerrilheira, o ressurgir dos movimentos armados seguramente é um fator fundamental para debilitar as perspectivas de uma intervenção encabeçada pelos Estados Unidos.
Conclusão
A política de múltiplas vias de Washington direcionada para desestabilizar o governo venezuelano foi contraproducente em geral, sofreu fracassos importantes e colheu poucos êxitos.
A linha dura contra a Venezuela não conseguiu alcançar nenhum apoio nos principais países da América Latina, com exceção da Colômbia. Isolou Washington, não Caracas. As ameaças militares quiçá hajam radicalizado as medidas socioeconômicas adotadas por Chávez, não as moderaram. As ameaças e acusações procedentes da Colômbia fortaleceram a coesão interna na Venezuela, exceto no núcleo duro dos grupos de oposição. Também levaram a Venezuela a melhorar seus serviços de inteligência, polícia e operações militares. As provocações da Colômbia promoveram uma ruptura nas relações e um descenso de 80% do comércio transfronteiriço multimilionário, deixando em falência uma infinidade de empresas colombianas, já que a Venezuela efetuou a substituição por importações agrárias e industriais procedentes do Brasil e Argentina. Os efeitos das medidas para intensificar a tensão e a “guerra de desgaste” são difíceis de ponderar, sobretudo em termos do impacto que puderam causar sobre as próximas eleições legislativas de 26 de setembro de 2010, de crucial importância. Sem dúvida, o fracasso da Venezuela na hora de regular e controlar a afluência multimilionária de fundos estadunidenses até seus sócios venezuelanos no interior causaram um impacto importante na sua capacidade organizativa. Não existe dúvida de que a piora da economia foi perceptível na restrição do gasto público para novos programas sociais. Além disso, a incompetência e a corrupção de vários altos cargos chavistas, sobretudo no âmbito da distribuição pública de alimento, na habitação e na segurança, terão consequências eleitorais.
É provável que estes fatores “internos” influenciem muito mais na hora de dar forma à distribuição do voto na Venezuela que a política de confrontação agressiva adotada por Washington. No entanto, se a oposição pró-estadunidense aumentar de forma substancial sua presença legislativa nas eleições de 26 de setembro (superando um terço dos membros do Congresso), tratará de bloquear as mudanças sociais e as políticas de estímulo econômico. Os Estados Unidos dobrarão seus esforços para pressionar a Venezuela com o fim de que desvie recursos para assuntos de segurança, diminuindo os gastos socioeconômicos que sustentam o apoio de um 60% mais pobre da população venezuelana.
Até o momento, a política da Casa Branca, baseada em uma maior militarização e praticamente nenhuma iniciativa econômica nova, foi um fracasso. Animou os países latino-americanos mais extensos a aprofundar sua integração econômica, como comprovam os novos acordos aduaneiros e alfandegários adotados na reunião do MERCOSUL de princípios de agosto deste ano. Isto não significou a diminuição das hostilidades entre Estados Unidos e os países da ALBA, tampouco representou o aumento da influência dos Estados Unidos. Em troca, a América Latina avançou na consolidação de uma organização política regional nova, UNASUL (que exclui os Estados Unidos), baixando de categoria a Organização dos Estados Americanos – OEA, que os Estados Unidos utilizam para impulsionar seus planos. As únicas luzes que brilham distante, por ironia do destino, procedem dos processos eleitorais internos.
O que Washington não consegue compreender é que, em todo espectro político que compreende desde a esquerda até a centro-direita, os dirigentes políticos temem e se opõem a que o impulso e o fomento estadunidense à alternativa militar constituam o elemento central da política. Praticamente todos os líderes políticos têm recordações desagradáveis do exílio e da perseguição política do ciclo anterior de regimes militares respaldados pelos Estados Unidos. O autoproclamado alcance territorial do exército estadunidense, que opera desde suas sete bases na Colômbia, aumentou a brecha existente entre os regimes democráticos centristas e de centro-esquerda e a Casa Branca de Obama. Em outras palavras: a América Latina percebe a agressão militar estadunidense contra a Venezuela como um primeiro passo em direção ao sul para chegar também a seus países. Junto ao impulso para uma maior independência política e a diversificação dos mercados, isso debilitou as tentativas diplomáticas e políticas de Washington de isolar a Venezuela.
O novo Presidente Santos da Colômbia, produzido com o mesmo molde direitista de seu predecessor Álvaro Uribe, enfrenta um dilema espinhoso: continuar sendo um instrumento de confrontação militar e desestabilização estadunidense da Venezuela, à custa de vários bilhões de dólares em perdas comerciais e do isolamento do resto da América Latina, ou aliviar as tensões e incursões fronteiriças, desembaraçando-se da retórica da provocação e normalizando as relações com Venezuela. Caso suceda este último, Estados Unidos perderá a última ferramenta de sua estratégia exterior de alimentar as “tensões” e a guerra psicológica. Para Washington, restam duas opções: uma intervenção militar direta e unilateral ou financiar uma guerra política através de seus colaboradores no interior do país.
Enquanto isso, o Presidente Chávez e seus partidários fariam bem em concentrar-se em tirar a economia da recessão, aplacar a corrupção do Estado e a ineficiência monumental e capacitar os conselhos comunitários e fabris para que desempenhem um papel mais relevante em todos os aspectos, desde o incremento da produtividade até a segurança pública. Em última instância, uma segurança de longo prazo da Venezuela, contra os tentáculos longos e penetrantes do império estadunidense, depende da força de organização dos agrupamentos de massas que sustentam o governo de Chávez.
Traduzido por Tereza Jurgensen e Otávio Dutra.
Fonte: AQUI
,






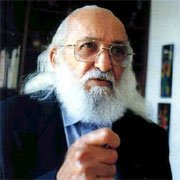


Nenhum comentário:
Postar um comentário