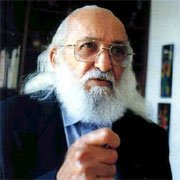Carla Luciana SILVA
Professora da Graduação e do Mestrado em História da UNIOESTE, Campus de Marechal Candido Rondon.
Esse artigo se insere na pesquisa que realizo sobre a atuação de jornalistas brasileiros no processo de criação de consenso sobre a Ditadura Civil-Militar instaurada em 1964 no Brasil. Mais especificamente, busco investigar a trajetória de jornalistas que possuem grande poder de divulgação nos meios de comunicação brasileiros, especialmente Alexandre Garcia, e Elio Gaspari. Buscamos investigar as contribuições dos mesmos para a consolidação de um consenso sobre o que foi a Ditadura Brasileira e as formas do processo de democratização. Também buscamos investigar suas trajetórias intelectuais para situar sua produção em um campo de atuação política, diretamente vinculada à criação de um consenso sobre a amenização do que foi a Ditadura, instituindo a concepção de Ditabranda. As obras analisadas têm uma característica em comum: foram publicadas após a Ditadura, e se inserem num contexto de reconstrução histórica, histográfica e memorialística sobre o que foi a Ditadura e o que seria o processo democrático brasileiro. Nesse artigo abordaremos a trajetória de Alexandre Garcia.
Alexandre Garcia: democracia mesmo, só com o ditador
O jornalista Alexandre Garcia é conhecido hoje em dia como um dos homens-referências do jornalismo da Rede Globo. Estar no Jornal Nacional sem dúvida transforma qualquer um em uma voz autorizada, seja de que idéias se tratar. Além disso, o jornalista tem programa de tv em canal pago da Globo, além de produzir artigos que são reproduzidos em inúmeros jornais impressos, e também fazer inserções em rádios na rede CBN.
No dia 29/12/2009 publicou uma crônica, que foi reproduzida por inúmeros jornais que reproduzem seus textos, que se chamava: “Zelaya e Goulart”. Seu artigo principia dizendo que o que o Brasil estaria “na contramão, considerando Zelaya presidente de Honduras. Insiste em dizer que houve golpe”. E explica dessa forma:
Ontem me caiu a ficha sobre que razões teriam levado o governo brasileiro à tão teimosa posição. E acho que as encontrei na História recente do Brasil, o presidente João Goulart, tal como Zelaya, estava influenciado por lideranças externas da esquerda revolucionária. Jango se deixava influenciar por Fidel Castro – que chegou a mandar milhões de dólares para a „revolução socialista‟ brasileira, inclusive para as mãos de Brizola, como ele próprio me confirmou.
E segue seu argumento: “o mentor de Zelaya é o tenente-coronel paraquedista Hugo Chávez, que quer implantar a „revolução bolivariana‟ na América Latina. Tal como Goulart, Zelaya promoveu movimentos populistas visando a permanecer no poder, a cancelar eleições e a fechar o Congresso”. Assim, o golpe contra Goulart é absolutamente justificado, e a ele é atribuído o autoritarismo e a suposta ilegalidade das suas ações. Os militares seriam, portanto, legítimos representantes da vontade popular. Segundo Garcia, “No Brasil, o povo saiu às ruas e os jornais publicaram editoriais de primeira página, exigindo um basta no governo Jango; exigindo um corte numa revolução socialista e populista que estava em marcha. Aqui, os militares deram o „coup-de-grâce‟”. Os jornais aparecem como porta-vozes da vontade popular, e não como portadores de políticas golpistas, jamais como um lance na luta de classes. Os militares estariam, portanto, exercendo a vontade do povo. A tese é clara: “lá como cá houve, na verdade, um contragolpe. Aqui, por uma ação militar que deixou o Congresso diante de um fato consumado: a invacância da presidência, com a fuga de Goulart para o exterior. Lá, por uma ação totalmente dentro da legalidade”. Perfeito argumento, agora, de golpeado, Goulart passa a fugitivo, covarde que abandonou o cargo e deixou o país à deriva. E o jornalista usa de uma justificativa peculiar para o apoio brasileiro a Zelaya:
É que aqui está a explicação: as frustrações com a queda de Goulart se projetam, emergem do inconsciente do principal conselheiro de política externa de Lula, com o contragolpe também dado em Zelaya. É como se, inconscientemente, estivessem segurando Goulart numa embaixada de Brasília, para que não fugisse para o Uruguai e continuasse „presidente‟ protegido pelos muros da imunidade diplomática do território estrangeiro (Idem).
Jango, nessa versão, se torna um criminoso, afinal, além de abandonar seu cargo estaria fugindo pra se proteger, de que, não se sabe, mas fica no ar. O artigo é concluído com uma interpretação muito recorrente no texto de Garcia, que é a insistente recorrência a uma leitura muito particular que ele faz do pai da psicanálise: “o doutor Freud diria que o que não puderam fazer com Goulart, fazem agora, mesmo desesperados, com Zelaya”. Buscaremos na seqüência aprofundar a análise dos argumentos do jornalista com duas motivações: entender a leitura que está sendo feita sobre o que foi a Ditadura brasileira; compreender a visão de historia que está sendo construída, absolutamente anti-popular, anticomunista, antiesquerdista, e que tem na ideia de “ditabranda” um elemento importante do argumento.
No mesmo ano, o jornalista já havia publicado um artigo em que clamava pela necessidade de “reescrever a história” recente do país. Segundo ele, “já está em tempo de se esquecer a propaganda, os rancores, as mentiras, e reescrever nossa Historia recente. Historia sem verdade não é ciência, é indecência”. (GARCIA, 2009b) o jornalista, remetendo-se diretamente à temática da Ditabranda, quando o jornal Folha de São Paulo usou o termo Ditabranda ao referir-se à Ditadura brasileira. Garcia diz:
No dia 17 último, a insuspeita Folha de S Paulo, em editorial, chamou de ditabranda aquela época brasileira, em contraposição com ditaduras como de Fidel Castro e a disfarçada de Hugo Chavez. Houve gente que ficou furiosa com a Folha, por causado editorial. „Que infâmia é essa de chamar os anos terríveis da repressão de ditabranda? – perguntou uma professora da Faculdade de Educação da USP, segundo a Veja. Minha neta me fez a mesma pergunta, porque o professor dela contou que foram anos de chumbo, que ninguém tinha liberdade. Desconfiei que o professor nem havia nascido em 1964 e ela me confirmou isso.
Vejamos os sujeitos envolvidos: o jornalista da Rede Globo elogia o jornal do Grupo Folha pela sua coragem de ter dito o que disse. A fala da oposição “de uma professora” vem trazida pela revista Veja, do grupo Abril. Ou seja, os três grandes gigantes da comunicação brasileira reunidos na sua fala, reforçam um mesmo sentido: de que não teria havido ditadura no Brasil. Do lado oposto aparecem dois professores, e o segundo dele sumariamente desqualificado em seu trabalho por não ter “nascido” em 1964, como se os historiadores apenas fossem autorizados a falar sobre o passado não vivido. As idéias de fundo presentes na “ditabranda” da Folha são também reforçadas: Fidel e Chavez seriam a prova das reais ditaduras. Garcia segue, explicitando sua diferença com relação ao professor: “Eu vivi aqueles tempos. Fui presidente de Centro Acadêmico em 1969. Fui jornalista do Jornal do Brasil de 1971 a 1979. Cobria política e nunca recebi qualquer tipo de ameaça, censura ou pressão. Sei que havia censura, comigo nunca houve”. Portanto, sua experiência, a que deve ser reforçada é essa, de que para quem fazia as coisas direito não havia censura. Voltaremos a essa sua militância, ou ausência dela no seu próprio relato. Mas antes disso, não podemos deixar passar o que ele diz sobre Médici, já que ele encerra o seu artigo exigindo que se pare de fazer propaganda e “história indecente”: “Lembro que o general Médici foi o mais duro entre os generais-presidentes. Mas ele entrava no Maracanã, de radinho no ouvido e cigarro no canto da boca, e quando aparecia na tribuna o estádio inteiro o aplaudia. E ele estava reprimindo os grupos armados de esquerda que seqüestravam e assaltavam bancos”. Interessante observar que Garcia diz, e nesse artigo mais de uma vez, saber que havia repressão e tortura, mas ainda assim, a ideia que quer fixar é a de que não teria havido ditadura. Até porque, ele diz textualmente: “os generais-presidentes foram todos eleitos pelo Congresso, onde havia oposição. O último deles, ao contrário de Fidel e Chavez que negam suas ditaduras, assumiu fazendo uma promessa: „Eu juro que vou fazer deste país uma democracia‟. Coisa rara, um suposto ditador reconhecer que não governava numa democracia”. Nem mesmo ao dizer que Figueiredo (sequer nomeado) reconhecia que não viva uma democracia o jornalista assume que se vivia numa Ditadura. Reforça seus princípios, e a institucionalidade da “autoridade” é um dos mais importantes”, e apoiando-se uma vez mais no suposto apoio popular à Ditadura expresso no suposto aplauso recebido por Médici.
Para conseguirmos compreender mais a fundo essa incoerência discursiva de Alexandre Garcia vamos recorrer a nenhuma outra fonte que não seja o seu próprio relato. Vamos fazer uma leitura o mais detalhada possível sobre o seu livro Bastidores da Notícia, buscando ver qual o projeto social defendido pelo jornalista. Ficará claro desde o princípio que não se trata de um intelectual dissimulado, irônico, que usa de palavras de duplo sentido, como vemos muitas vezes na revista Veja. Não, Garcia deixa muito claras suas opiniões. É por isso que vamos problematizar sua atuação como um efetivo intelectual orgânico do projeto burguês da Ditadura brasileira. E isso não ocorre apenas pelo fato dele ter ocupado importante cargo de assessor de comunicação do governo do ditador Figueiredo2. Está presente no relato do jornalista em inúmeros momentos do seu livro, como pretendemos mostrar a seguir.
2 Segundo o dado oficial, “Depois da eleição do presidente João Baptista Figueiredo, Alexandre Garcia foi ser secretario de imprensa do governo”. Memória Globo. Jornalistas. Alexandre Garcia. http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-259099,00.html. Consultado em 8/3/2011. Segundo a wikipedia: “por 18 meses, entre os anos de 1979 e 1980, foi porta-voz oficial da Presidência da República, no governo de João Batista Figueiredo”. Alexandre Garcia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Garcia . consultado em 8/3;2011.
O livro Bastidores da notícia, publicado em 1990, faz uma narrativa pessoal, auto-biográfica de Alexandre Garcia até os primeiros meses do governo de Fernando Collor de Mello. O livro deixa claro que Garcia é um homem de muitos amigos. A julgar pela quantidade de vezes que o jornalista assinala essa palavra para caracterizar pessoas de seu convívio, suas fontes, suas relações, sobretudo nos meios militares. É também uma espécie de aficcionado pela ideia de civilização, vamos percebendo no livro suas incansáveis comparação com países “civilizados”, comparados com o Brasil “incivilizado”, a sujeira brasileira se opõe à limpeza canadense, e assim por diante. Ainda no campo dos amigos, o prefácio de seu livro é escrito por Raquel de Queiroz, embora não haja uma linha ao longo do livro que esclareça sua relação de amizade. Queiróz, uma ardorosa defensora do golpe de 1964 parece ser uma pessoa apropriada para apresentar livro de tal natureza. Também são bastante recorrentes no livro suas participações em jantares oficiais, desfrutando mais de uma vez de favores, caronas, etc. Um dos únicos relatos de tentativas de suborno sofridas indica que o jornalista defende uma postura não corrupta em relação a dinheiro. Sua moral, ademais, é bastante conservadora, como se expressa em vários momentos no livro. É também um homem de medalhas e condecorações, tendo recebido por exemplo, a Ordem do Império Britânico da rainha Elizabeth II por sua cobertura da Guerra das Malvinas (Garcia, 1990, 216), que é abertamente anti-argentina.
Mas o objetivo aqui não é fazer qualquer tipo de julgamento, menos ainda debater suas idéias ou a qualidade do seu trabalho. O mais importante a ressaltar são suas ações como intelectual orgânico, formador de formadores, nos mais diversos âmbitos políticos. A partir daí, poder relacionar a questão que estamos buscando, de construção de uma visão amena da Ditadura brasileira. Um exemplo de sua atuação intelectual está no relato de uma palestra sua no curso de jornalismo da UnB:
Falava sobre a clareza, objetividade e isenção que precisa ter o repórter. Isso é elementar em jornalismo. E citei como exemplo um episódio ocorrido em São Paulo, no qual o capitão Conte, da PM, matou dois seqüestradores que, com uma faca, ameaçavam cortar a garganta de uma menina. - Se fosse nos Estados Unidos, o capitão seria condecorado. Aqui, a imprensa o apresentou como bandido – argumentei. - Mas ele é bandido! Cortou um aluno – os policiais são bandidos. Eles ajudam a massacrar o povo! Os que a imprensa corrupta apresenta como bandidos são apenas vítimas da sociedade! Expliquei que ele estava defendendo tese sociológica ou fazendo editorial. Que o repórter deveria se limitar aos fatos. Aí, o professor me interrompeu: - Mas eu não estou ensinando meus alunos a serem repórteres isentos, neutros e objetivos. Eu os estou ensinando a serem, militantes ideológicos! (GARCIA, 1990, 313-14)
Em primeiro lugar, ficamos com a impressão de que a suposta isenção, defendida no primeiro parágrafo, não seria abalada se o jornalista tivesse ficado do lado “certo”, segundo o argumento de Garcia. Ou seja, se o jornalista tivesse defendido a condecoração, não seria criticado por deixar de ser isento. Depois, percebemos que há um distanciamento, e esse é sempre cada vez mais demarcado por Garcia: ele, portador da verdade, e “os jornalistas” que não são isentos. Tanto não eram isentos que estariam defendendo “tese sociológica”, como se o jornalismo tivesse um campo próprio, imune à sociologia ou à história, fosse, nos parece, “a verdade”. Afinal, ele completa dizendo que o jornalista deve limitar-se aos fatos, como se os fatos falassem por si, fossem coisas. Interessante a fala do professor, ao invés de questionar o posicionamento de Garcia, afinal, ele está se posicionando e não sendo neutro como prega, o professor supostamente faz uma fala que reforça a tese de Garcia, de que seu ensino seria ideológico, e portanto, passível de desqualificação. Portanto, temos que aceitar como verdade que o Brasil viveu uma “Revolução” durante os anos de Ditadura. (Garcia, 1990, 106, 111, 133)
Isso nos leva à forma com que o jornalista se relaciona com sua fonte, substancialmente distinta da forma que o historiador o faz. Varias vezes o jornalista deixa transparecer relações pessoais com suas fontes, relações que muitas vezes podem ser mantidas apenas tendo em vista a concessão de informações. Mas não é esse o problema que queremos ressaltar, e sim o fato de que suas fontes, quando depõem, recebem status de verdade, de informação, de dado. Ademais, no campo da metodologia de seu relato, é espantoso como escreveu o livro de mais de 350 páginas, sem citar fontes escritas, repleto de frases “entre aspas”. Segundo o autor, “não consultei fontes, jornais ou revistas. Só me vali do que vi, ouvi, senti, toquei e chorei”. (Garcia, 1990, 11)
Fiz menção acima ao conservadorismo de Alexandre Garcia. Gostaria de desenvolver um de seus aspectos para tornar mais clara minha argumentação. Antes de entrarmos na relação de Garcia com o general Figueiredo, tema recorrente nas suas lembranças, gostaria de chamar atenção para um elemento no seu relato, a ojeriza à organização popular, às organizações de esquerda e às lutas dos trabalhadores. Seu posicionamento começa a ser esboçado na forma que trata manifestações ocorridas na Argentina, enquanto era correspondente do Jornal do Brasil, nos anos 1970.
Durante o governo de Figueiredo o Brasil vivenciou um período de tensões enormes, com uma grande quantidade de greves e mudanças qualitativas nas formas de organização da classe trabalhadora. As formas de organização da classe se ampliaram, explodindo movimentos de greve e de manifestações contra a Ditadura. No texto de Garcia, os movimentos são claramente mostrados como empecilhos à democracia, não parte dela. Garcia narra uma viagem acompanhando o presidente a Belém na qual o SNI teria avisado que “poderíamos ter sérios problemas de manifestações contra o presidente”. O jornalista foi escolhido para que “dialogasse como os estudantes, tentando evitar uma solução policial. Eu aceitei e fui preparando os argumentos”. (Garcia, 1990, 141). Sua narrativa é clara sobre como via a organização trabalhadora:
Logo percebi que metade deles estava ali porque defendia de verdade as idéias expostas nos cartazes que carregavam. E que a outra metade não queria diálogo. Queria pretexto para a bagunça e para um confronto com a polícia, que ampliasse o gesto deles. Eu já conhecia aquela velha tática. Meus três anos de Argentina foram um belo pós-graduação naquela cartilha. Meu trabalho foi apenas de provar que uma metade estava sendo usada pela outra. E que a metade idealista poderia conseguir coisas que a outra metade não poderia conseguir. Quando isso ficou bem claro, pedi que escolhessem dez representantes para conversarem com o presidente. A escolha sedimentou a divisão. E dez não-agitadores conseguiram do presidente respostas para o que queriam. (Garcia, 1990, 141)
Garcia parece estar usando os ensinamentos de seus mestres, sobretudo de Golbery, citado várias vezes no livro por ensinar sobre a importância de “dividir” a esquerda para poder destruí-la. Usa de sua suposta superioridade sobre os manifestantes, afinal ele “prova” que o movimento estaria sendo manipulado até que consegue que “não-agitadores” consigam o que queriam que, segundo ele, seria ouvir o presidente. É insistente ainda nessa ideia de que os movimentos seriam idênticos, aqui, na Argentina ou em qualquer lugar, dando a impressão de que não faziam qualquer sentido: “na hora da confusão, eu fui para o meio dos manifestantes, para ouvir o que diziam e testemunhar a reação da polícia. As palavras de ordem eram idênticas às que já ouvira em espanhol, na Argentina” (142).
O que chama a atenção no relato de Alexandre Garcia não é apenas a ausência dos movimentos sociais concretos, mas a ausência do debate sobre as formas de inserir no debate político essas parcelas significativas da população brasileira, e, inclusive, a ausência do debate que viria a seguir sobre a “sociedade civil organizada”. Seu posicionamento é seco e claro: os trabalhadores aparecem como empecilhos ao projeto de abertura e à bondade de Figueiredo que, como ele expressou no texto citado de 2009, é visto como aquele que “concede a democracia”. Vejamos mais um relato nesse sentido, narrando uma manifestação ocorrida em Brasília:
Aí começaram a gritar palavras de ordem que eu conhecia da Argentina. Então, forçaram a entrada do palácio. À frente, vinham mulheres com crianças. A guarda, com baionetas, recolheu-se para não ferir ninguém. Eles estavam cantando o Hino Nacional de punhos erguidos e nós procurávamos o verdadeiro líder, para dialogar. Havíamos percebido que o deputado Aurélio Peres só estava ali para trazer a imunidade parlamentar e a presença do Legislativo. Mas não mandava nada. Apenas esbravejava, de vez em quando, com o segurança, a quem empurrava, para provocar uma agressão. (Garcia, 1990, 151).
Os manifestantes, nesse relato, são os violentos contra a pacata e pacífica polícia. Sua estratégia está clara, entra no meio dos manifestantes para ouvir o que querem e também para buscar suas lideranças:
Até que percebi, no meio daquela gente, alguém que recebia consultas e dava ordens, mas se mantinha distante de nós. Abri caminho e fui até ele: - o senhor é o líder? Ele ficou visivelmente contrafeito: - „Não. Todos nós somos líderes!‟ – Eu quero cumprimenta-lo – e estendi a mão – porque essa ideia de trazer crianças recém-nascidas, idosos, senhoras grávidas e homens doentes faria inveja ao Maquiavel. Ele me deu as costas e se afastou. Eu gritei: - um momentinho, o senhor não quer me ouvir? – não, não quero ouvir – e foi para o outro extremo da manifestação. Que só acabou quando a Polícia Militar, desarmada, colocou todos em três ônibus e os transportou até a rodoviária. (Garcia, 1990, 151).
Além de autoritários, os manifestantes são mostrados como covardes, “maquiavélicos” e, uma vez mais, imunes ao diálogo. Por isso a estratégia de buscar o líder, e mostrá-lo como alguém covarde, que não corria riscos ao passo que estaria colocando bebês e grávidas para esse fim. Ainda bem que a polícia nada fez, parece ser o raciocínio do qual quer nos convencer. Esse argumento aparece em outros veículos de comunicação do período, e passa a ser uma espécie de esquema que mostra os manifestantes sempre sendo usados pelos seus líderes idealistas ou mal-intencionados. Não é a toa que, no relato de Garcia, na página seguinte ele mostra “um vice da Revolução passear numa rua movimentada e ser aplaudido” (Garcia, 1990, 152). Também com esse sentido, busca mostrar o suposto apoio popular a atividades como uma parada militar de 7 de setembro em que “explica” como se deve calcular multidões em que ele calculara 60 mil pessoas e teria ouvido
Um grupo de jornalistas que discutia alguma coisa. – Vamos botar 25 mil pessoas? Sugeria um repórter. - Não! Esses milicos expulsaram o padre Miracapillo! Vamos dar 10 mil para eles! Interrompeu o outro. Por fim, todos concordaram em que 15 mil pessoas assistiram em Brasília, àquele desfile na capital do país. A minha estimativa de 60 mil deve ter sido considerada pelos leitores como uma mentira, porque era o único com aquele número. (Garcia, 1990, 200)
Além do suposto apoio popular, Garcia se mostra empenhado em reiterar sua participação no processo de abertura. Sua fala sempre refere que “o objetivo de todo o nosso trabalho é a democracia, é entregar o poder para um civil” (Garcia, 1990, 171). Ou seja, os atrasos seriam culpa sempre dos movimentos, daqueles que de fato não queriam a democracia pois estavam fazendo baderna nas ruas. Após sua saída da Secretaria de comunicação, trabalhando na Manchete e depois na Globo, segue a mesma linha, usando sua relação com o presidente inúmeras vezes no seu trabalho. Inclusive, participando de “garantias morais” para a concessão da televisão Manchete. (188) Sua atuação seguiria sendo anti-mobilização popular. Em outra oportunidade, em 1984, ele relata a orientação que deu à sua repórter: “Procure um sem-terra típico, verdadeiro. Não um padre, nem um ativista do PT ou da Pastoral da Terra. Procure um sem-terra de verdade, e pergunte a ele se tivesse terra própria, escriturada, o que fazia se a terra dele fosse invadida por sem-terras”. (Garcia, 1990, 270). Uma vez mais, desqualifica lideranças e organizações para buscar o conservadorismo supostamente constituinte dos “manobrados” pelo movimento.
Sua relação com Figueiredo traz inúmeras narrativas que comprovam a mútua admiração entre o jornalista e o ex-ditador. Um dos elementos que mais chama atenção é como a fala de Figueiredo toma status de verdade. É um elemento a perceber o quanto as entrevistas, que são portanto, opinião, são vistas como dados acabados, informação inquestionável. O exemplo a seguir nos mostra a relação dele com a fonte, no caso, Figueiredo, narrando uma conversa com ele em que “Figueiredo parecia me esperar, com um chimarrão”:
- Sabe de uma coisa? – comentou Figueiredo. – uma vez eu e o Geisel pescávamos no lago Paranoá, e ele me recomendava: „Olha, Figueiredo, temos que acabar com esse negócio de tortura; você tem que me prometer que no seu governo vai fazer o que eu fiz em São Paulo‟. Nisso – continuou Figueiredo – um lambarizinho mordeu a minha isca e eu fisguei ele. Agarrei ele assim, dei dois tapas na cara dele e disse: „Vamos, conta onde estão os peixes maiores!‟ E aí eu me virei pro Geisel: „Pode deixar, presidente, no meu governo não vai haver tortura‟. “Um homem que faz esse tipo de brincadeira é um homem puro”, pensei. Ele falava de dentro, do coração. Era todo sentimento. Ele me convidou para voltar, e em outros sábados tomamos chimarrão juntos e rimos juntos das piadas dele sobre ele mesmo. (Garcia, 1990, 112)
A tortura, supostamente comentada por dois generais-ditadores é absolutamente naturalizada. A conclusão ao relato, que incluiu inclusive simulação de tortura é vista por Garcia como expressão de “bom coração” e “sentimento”. Em outras passagens esse “sentimento” é reiterado pelo jornalista como num diálogo em que Figueiredo afirmava que “não ia gostar de ser presidente” ao que o jornalista refletia: “eu testemunhava esses encontros e lamentava que ninguém conhecesse realmente o „seu‟ João que estava dentro do general de cavalaria ex-chefe do SNI”. (Garcia, 1990, 121). Figueiredo era mostrado como portador de um “coração justiceiro” (133).
Fica claro no relato que Figueiredo buscou uma relação de proximidade com outros jornalistas, chegando a discutir com eles em algumas ocasiões, inclusive em reuniões informais abastecidas de whisky (Garcia, 1990, 115). Outra ocasião, em que Garcia não tinha autorização para entrar numa cerimônia, Figueiredo sai: “Já que você não entra, eu saio. Tudo bem? E aí ficamos conversando sobre a evolução da democracia”. (Garcia, 1990, 124). Tanto assim que seu primeiro livro foi João presidente, “lançado no salão nobre do Senado. Figueiredo compareceu, e ficamos lado a lado, assinando autógrafos”. (Garcia, 1990, 125).
A tese que parece clara em Garcia é de que se tratava da “institucionalização da democracia” (129), e seu papel teria sido de “ajudar” Figueiredo “a fazer a abertura” (130). E nesse sentido também narra a proximidade com Golbery: “era preciso sorver tudo o que fosse possível daquele homem genial. Ninguém imagine Golbery pedante ou orgulhoso. Ele era o retrato da simplicidade, como todo sábio” (Garcia, 1990, 131). Evidentemente que essas relações levam a atividades de maior contato e proximidade com suas fontes, narradas com muita tranqüilidade por Garcia como nesse exemplo: “na noite de 3 de setembro de 1979, por exemplo, encontrei-me secretamente com líder do MDB, deputado Freitas Nobre. (...) No dia seguinte, mandei o seguinte relatório ao presidente”. E percebemos como seus valores se misturam com os de suas fontes:
Recordou que, quando líder, num 31 de março da legislatura passada, excluiu, por sua exclusiva responsabilidade, os nomes de cinco oradores que pretendiam „virar a mesa‟ em violentos discursos contra a Revolução. Disse que um deles estava disposto a bagunçar, que já tinha comprado passagem para o exterior, e dispunha de carro pronto, em frente ao edifício do Congresso, para ir embora após o pronunciamento. (Garcia, 1990, 137)
Fica claro aqui seu serviço de arapongagem enquanto assessor de comunicação, embora não diga quem seria o envolvido na suposta “baderna”, diz quem é a fonte para ser investigado. Na avaliação de Garcia, expressa logo em seguida, “com aqueles encontros, ajudamos muito a desobstruir o difícil início da estrada que estava sendo desbravada em direção à democracia”. Essa expressão aparece em várias falas que são lembradas pelo jornalista como numa fala de Alceu Collares sobre o presidente: “o homem é macho mesmo e vai fazer democracia e eu vou fazer oposição, mas vamos fazer juntos essa democracia” (138).
Um comentário final, sobre a afinidade de Garcia com as Forças Armadas. Além de várias medalhas e condecorações, essa simpatia é nutrida em vários momentos de seu relato. Um caso espantoso relata um episódio de guerra na Líbia em que ele “queria ter um fuzil para poder responder” (Garcia, 1990, 230). Outro caso mostra sua simpatia com a própria lide militar:
Terminei o ano com um convite do comandante militar do planalto, general Mario Orlando Sampaio, para cobrir as manobras de seu comando, no Campo de Formosa. Aceitei, mas pedi para fazer uma atualização, como reservista. E gravei a reportagem com uniforme camuflado de combate, atirando com dois velhos conhecidos, o morteiro 60 mm e a metralhadora pesada Browning 50. E com uma arma que eu não conhecia, a metralhadora MAG 7,62 mm. Foi uma festa! (Garcia, 1990, 311)
Essa citação busca mostrar sua relação com as Forças Armadas, mas é preciso relaciona-la com suas posições políticas que estamos analisando ao longo do texto. Não vamos explorar por ora a relação com Collor e sua eleição, tendo sido ele um dos mediadores do debate eleitoral na Rede Globo entre Collor e Lula, em 1989. O debate rendeu-lhe uma vaia de cinco minutos em evento público quando elogiou “os resultados de uma eleição democrática”, e ele mesmo relata:
No intervalo, um jovem subiu ao palco e me perguntou: - Você é de esquerda ou de direita? - Sou jovem o suficiente pra não ter essas diferenças antigas, e democrata o suficiente para não perguntar a ninguém uma coisa dessas. (Garcia, 1990, 356)
Enuncia-se, portanto, um tempo distinto, em que as diferenças entre esquerda e direita passam a ser amenizadas e pulverizadas. E com isso se consolida um membro de um governo da Ditadura como sendo o verdadeiro democrata. Afinal, seu livro parece cumprir bem uma de suas funções, a de mostrar-se como um dos maiores jornalistas brasileiros, com maior influência no Congresso Nacional. Ao menos é o que nos parece pela forma que conclui seu livro relatando um debate no Congresso em que encontrou “um grupo de deputados, tendo a frente Afif Domingos”, e transcreve sua suposta fala: “nós saímos para ver o que você estava dizendo na Globo, para entender o que aconteceu aqui dentro”. (Garcia, 1990, 358).
Referências Bibliográficas: GARCIA, Alexandre. (1990) Nos bastidores da notícia. 2ª ed. São Paulo, Globo. GARCIA, Alexandre. (2009 b) Reescrever a história. 10/6/2009. Disponível em: http://www.diariodemarilia.com.br/Noticias/67058/Reescrever-a-histria. Consultado em 7/3/2011 .
GARCIA, Alexandre. (2009ª) Zelaya e Goulart. 29/12/2009. Disponível em: http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=1018 . Consultado em 7/3/2011.
.